31/01/09
Esqueçam lá isso e bom fim-de-semana*
Autumn Leaves, Chet Baker, Paul Desmond
*Is everybody in this world corrupt?
I don’t know everybody
(diálogo retirado de One, Two, Three, Billy Wilder, 1961)
30/01/09
A propósito da bondade da coragem, tão sobrestimada por estes dias ― da série "I'm talkin' about ethics" [e sim, é uma piada, mas não revisionada]
 G. K. Chesterton escreveu em tempos que «A palavra "bom" tem muitos significados. Por exemplo, se um homem matasse a mãe com um tiro a quinhentos metros de distância, eu teria de o considerar um bom atirador, mas não necessariamente um homem bom».
G. K. Chesterton escreveu em tempos que «A palavra "bom" tem muitos significados. Por exemplo, se um homem matasse a mãe com um tiro a quinhentos metros de distância, eu teria de o considerar um bom atirador, mas não necessariamente um homem bom».Prometo voltar ao Peixoto e não falar do Sócrates durante os próximos tempos mas é que esta tem mesmo graça
 Faça a busca no Google por "O Sócrates é honesto" e confirme o resultado.
Faça a busca no Google por "O Sócrates é honesto" e confirme o resultado. 29/01/09
28/01/09
Estaline varria a malta do retrato depois de lhes limpar o sarampo, o PS só muda textos online: graças a deus vivemos em democracia
 Não há alternativa a Sócrates... e nunca uma frase foi tão insistentemente repetida.
Não há alternativa a Sócrates... e nunca uma frase foi tão insistentemente repetida. O primeiro-ministro elogiou a forma como a ministra da Educação resistiu às dificuldades e incompreensões, considerando lamentável a atitude da oposição que diz que o Governo está apenas a trabalhar para as estatísticas.
No encerramento da cerimónia de apresentação do relatório da OCDE sobre política educativa para o primeiro ciclo (2005-2008), José Sócrates declarou que "valeu a pena resistir, não desistir, enfrentar as dificuldades. Este é o caminho para o sucesso". Elogiando a ministra da Educação, o primeiro-ministro recordou as "dificuldades" e incompreensões que as políticas de Maria de Lurdes Rodrigues têm enfrentado ao longo dos últimos anos, concluindo que "valeu a pena".
José Sócrates lembrou também algumas das reformas levadas a cabo nos últimos anos no primeiro ciclo, como o encerramento de escolas com poucos alunos e sem condições, o alargamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos ou a introdução do inglês. "Foi uma reforma muito importante para este Governo, como foi para mim", defendeu.
Na sua intervenção, o primeiro-ministro criticou ainda a oposição, lamentando que digam que o Governo está apenas a trabalhar para as estatísticas. "Que pobreza de debate político, que lamentável a atitude dos partidos políticos de dizerem que lá está o Governo a trabalhar para as estatísticas, como se as estatísticas não fossem importantes", afirmou, sublinhando que prefere a existência da medição do sucesso das medidas à "ausência de medição".
O primeiro-ministro elogiou a forma como a ministra da Educação resistiu às dificuldades e incompreensões, considerando lamentável a atitude da oposição que diz que o Governo está apenas a trabalhar para as estatísticas.
No encerramento da cerimónia de apresentação de um estudo sobre política educativa para o primeiro ciclo (2005-2008), realizado por peritos internacionais independentes, José Sócrates declarou que "valeu a pena resistir, não desistir, enfrentar as dificuldades. Este é o caminho para o sucesso". Elogiando a ministra da Educação, o primeiro-ministro recordou as "dificuldades" e incompreensões que as políticas de Maria de Lurdes Rodrigues têm enfrentado ao longo dos últimos anos, concluindo que "valeu a pena".
Who the fuk is Manuel Queiroz?
 A pergunta do título é retórica. Ou seja, estou-me nas tintas para o dito. Não sei quem é nem quero saber quem seja: Manuel Queiroz não me interessa como indivíduo mas como paradigma. No caso, paradigma da bêtise a que Flaubert chamou um figo e que, como é dos livros e da praxis, nunca vem só: faz-se habitualmente acompanhar da arrogância e quem vier atrás que limpe a merda.
A pergunta do título é retórica. Ou seja, estou-me nas tintas para o dito. Não sei quem é nem quero saber quem seja: Manuel Queiroz não me interessa como indivíduo mas como paradigma. No caso, paradigma da bêtise a que Flaubert chamou um figo e que, como é dos livros e da praxis, nunca vem só: faz-se habitualmente acompanhar da arrogância e quem vier atrás que limpe a merda.Mas se a estupidez é universal ― como garante a frase apócrifa de Einstein (Só há duas coisas infinitas, a estupidez humana e o universo, e quanto ao último não tenho a certeza) ― há quem a cultive de um modo genuinamente português.
Para ir directa ao assunto: são aqueles tipos que, perante uma coisa estúpida, puxam dos galões da sua suprema inteligência e tornam a coisa estúpida ainda mais estúpida, atribuindo-lhe qualidades que mais ninguém viu, intenções que mais ninguém percebeu, estratégias que mais ninguém alcançou.
Quanto a Manuel Queiroz, que é o exemplo que me traz agora, viu na reabilitação do bispo Richard Williamson, um inglês ultraconservador que acha que o Holocausto é uma história para adormecer criancinhas, um gesto papal cheio de conotações abscônditas mas que ele, e refiro-me naturalmente a Queiroz, alcança de modo claro e distinto (embora, e isto sou eu a falar, num português um pouco obscuro to say the least...). Os judeus tinham ficado lixados, a esquerda tinha ficado lixada, mas ele ― ele, Queiroz! ― sabia que Ratzinger visava mais longe e se estava a borrifar para os judeus e para a esquerda. Afinal, parece que o próprio Vaticano ficou incomodado com a história e, como já vem sendo enfadonhamente habitual, pediram-se desculpas.
Apropriadamente termino, pois, concluindo que há criaturas mais papistas do que o Papa ou em inglês para condizer com o título: He may look like an idiot and talk like an idiot but don't let that fool you. He really is an idiot.
27/01/09
Foi-se embora John Updike
 Um dos escritores que mais me fez gostar de literatura norte-americana, injustamente mal conhecido em Portugal ― embora nos últimos dois anos vários livros seus tenham aparecido nos escaparates (a reboque de O Terrorista, que, todavia, está longe de ser o seu melhor romance), incluindo algumas obras entretanto esquecidas e finalmente reeditadas, nomeadamente as da fabulosa série Rabbit (e para quando a reedição d' O Centauro?) ― faleceu hoje aos 76 anos, segundo notícia que leio aqui.
Um dos escritores que mais me fez gostar de literatura norte-americana, injustamente mal conhecido em Portugal ― embora nos últimos dois anos vários livros seus tenham aparecido nos escaparates (a reboque de O Terrorista, que, todavia, está longe de ser o seu melhor romance), incluindo algumas obras entretanto esquecidas e finalmente reeditadas, nomeadamente as da fabulosa série Rabbit (e para quando a reedição d' O Centauro?) ― faleceu hoje aos 76 anos, segundo notícia que leio aqui. Se não querem usar preservativo é lá com eles, negar a História já nos diz respeito a todos
 A 21 de Janeiro passado, Bento XVI anunciou o «perdão pontifício» a quatro bispos ultra-conservadores da congregação fundada por Marcel Lefebvre, um deles, o revisionista inglês dos quatro-costados Richard Williamson (ao centro, na fotografia), cujas recentes declarações em entrevista televisiva (que pode ser vista aqui) não deixam margem para dúvidas: as câmaras de gás nunca existiram e, logo, a bem da lógica, nenhum judeu ou cigano lá morreu.
A 21 de Janeiro passado, Bento XVI anunciou o «perdão pontifício» a quatro bispos ultra-conservadores da congregação fundada por Marcel Lefebvre, um deles, o revisionista inglês dos quatro-costados Richard Williamson (ao centro, na fotografia), cujas recentes declarações em entrevista televisiva (que pode ser vista aqui) não deixam margem para dúvidas: as câmaras de gás nunca existiram e, logo, a bem da lógica, nenhum judeu ou cigano lá morreu.  «Faz muito frio em Auschwitz», dirá depois a mulher israelita com quem me cruzei na estação de caminhos-de-ferro de Cracóvia. Aproximando-se com um papel na mão, pergunta-me num inglês áspero se poderei ajudá-la. «Também sou estrangeira», respondi-lhe, e ela continuou a tentar junto à fila do guichet de informações: «Desculpe, sabe dizer-me onde fica o Hotel Chopin?»
«Faz muito frio em Auschwitz», dirá depois a mulher israelita com quem me cruzei na estação de caminhos-de-ferro de Cracóvia. Aproximando-se com um papel na mão, pergunta-me num inglês áspero se poderei ajudá-la. «Também sou estrangeira», respondi-lhe, e ela continuou a tentar junto à fila do guichet de informações: «Desculpe, sabe dizer-me onde fica o Hotel Chopin?»Era o meu hotel. Acabámos a partilhar um táxi – eu, ela e o marido – e nessa noite fico a saber que são ambos filhos de judeus polacos que sobreviveram fugindo para a zona de ocupação russa. Quase toda a família que ficara na parte anexada pela Alemanha em 1939 morrera no campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Aqui a «solução» foi praticamente final: dos cerca de 3 milhões de judeus que viviam na Polónia antes da guerra, restavam 100 mil em 1945.
A caminho do Campo. O guia polaco vai calado junto ao condutor. Antes da partida fizera questão de contar uma piada que adivinho da praxe, recolhidos nos vários hotéis os participantes do tour: «Este autocarro dirige-se a Auschwitz-Birkenau. Aos passageiros que quiserem descer é dada agora uma última oportunidade», e seguiram-se alguns risos de circunstância.
As árvores austeras dão por vezes lugar a florestas sombrias a que se sucedem planícies cultivadas e mais tarde, colado a Birkenau, ao fundo, depois da cerca de arame farpado, hei-de avistar um outro campo igual, de terra arada e duas casas. Todos os dias os habitantes das casas olham a cerca. Provavelmente, não a vêem. Está ali há mais de 60 anos. Uma coisa com mais de 60 anos, se se mantiver imóvel e inalterável passa a ser invisível. A física não explica isto mas é assim.
«Queria ir a Auschwitz», confesso em tom sumido ao recepcionista do hotel. Chegara a meio da tarde e andara pelas ruas de Cracóvia a confirmar que se trata de uma cidade belíssima, poupada pela guerra. O pudor não me deixara ainda pronunciar a palavra. Quero saber como chegar de comboio a Auschwitz. «De comboio?!», e num golpe de magia salta sobre o balcão um folheto de excursões organizadas. «We have a very good tour to Auschwitz. Sai daqui às 9 horas, por volta das três e meia está de volta». Mostra-me o programa e, porque insisto no comboio, a contragosto consegue-me os horários. Já no quarto, telefono a informar que afinal mudei de ideias; se me pode incluir na lista do dia seguinte: «Nesse caso, terá de vir à recepção pagar o bilhete agora». Passa da meia-noite e a conversa com o recepcionista arrumara-me com o pudor. Apetece-me perguntar-lhe se tem viagens com pacote de almoço e bebidas incluído.
Durante os anos de 1940-45, o número de vítimas do campo de concentração e extermínio de Auschwitz é calculado entre 1.100.000 e 1.500.000 pessoas, 90% das quais de origem judaica, a maior parte morta imediatamente à chegada, nas câmaras de gás. A plataforma de desembarque, onde os médicos SS seleccionavam os «aptos» e os «inaptos» (selecção a que só os judeus se sujeitavam), ficava em Birkenau. Os carris continuam lá.
Quando, arrematada a excursão, acabo mesmo por voltar sozinha de comboio, dirijo-me directamente a Birkenau (conhecido como Auschwitz II). À saída pergunto a direcção para Auschwitz (I). Os restos dos carris, passados 60 anos da libertação do campo, separaram-se da estrada ocultos entre veredas bucolicamente cobertas de plantas e flores silvestres e não servem de referência. Explicam-me que terei de descer até uma pequena ponte e virar à esquerda. São cerca de quatro quilómetros que percorro sob uma chuva intermitente e fria e que me levam a Oswiecim, o nome polaco da localidade a que os alemães chamaram Auschwitz. À época do nazismo, o percurso era inverso e de sentido único: vinha-se para Birkenau para morrer.
O tour do primeiro dia, embora rápido, incluíra os marcos mais terríveis do campo, do temível Bloco XI, com o muro de fuzilamento e as celas de tortura, ao crematório I, inaugurado por um grupo de prisioneiros soviéticos, cobaias do Zyklon B, o gás com que os nazis levariam a cabo a «Solução Final».
No Bloco IV expõem-se os despojos. Aquando da Libertação, as tropas soviéticas encontraram pilhas de roupa, loiça, sapatos, malas (onde os proprietários deixaram escritos os nomes, estratégia de engano que convencia os recém-chegados de que as poderiam recolher mais tarde…), óculos, próteses, fotografias de família anónimas cujos retratados nunca mais se haveriam de rever…
Numa vitrina amontoam-se latas usadas do mortífero Zyklon B, noutra tranças e restos de cabelo humano amarelecidos pelo tempo – uma pequena amostra das sete toneladas que os SS deixaram para trás e que deveriam ser exportadas para a Alemanha onde se transformariam em mantas, recheio para travesseiros, forros de casacos, edredões...
Um ser humano dificilmente suporta tamanha realidade. Saio para o ar livre. Eu e uma americana de idade avançada. Cá fora, prestes a acender um cigarro, somos interpeladas por uma religiosa que passa e nos lembra, sorriso rasgado, que «is not allowed to smoke in Auschwitz». Mudas e cúmplices, aspiramos o fumo bem até às entranhas. [A velha americana há-de mais tarde assustar-me (eu distraída) ao repetir-me à orelha, voz cava e grossa: «is not allowed to smoke in Auschwitz!!!». E rimo-nos.]
Não é esta a única freira com que me cruzo. Há muitas por aqui. E num terreno contíguo, o do edifício onde as carmelitas se instalaram em 1894, ergue-se uma cruz alta de seis metros, a que resta da acesa polémica que rodeou a colocação de mais de uma centena de cruzes em Auschwitz, em 1982. Na altura, o anti-semitismo renasceu nas palavras do líder da chamada Associação das Vítimas da Guerra, Mieczyslaw Janosz, um ex-polícia corrupto que se opôs vigorosamente à remoção dos crucifixos. Os símbolos cristãos foram retirados (excepto o referido), e as carmelitas partiram. Para um olhar atento, a tentativa de cristianização do local não passa despercebida.
A polémica sobre a cristianização de Auschwitz não é de agora. A canonização de Maximilian Kolbe (1982) e Edith Stein (1998) pelo Papa João Paulo II já tinha provocado reparos da comunidade judaica internacional. O primeiro, um padre franciscano que trocou a sua vida em Auschwitz pela de um outro condenado polaco (Franciszek Gajowniczek), fora responsável por uma importante publicação católica em cujas páginas se liam artigos anti-semitas; Edith Stein, filósofa alemã convertida ao cristianismo nos anos 20, tornar-se-ia freira carmelita e acabaria gaseada em Auschwitz juntamente com a irmã, embora, naturalmente, não por ser freira católica mas por ser judia.
Nas palavras do rabino Leon Klenicki, um homem que se tem debruçado sobre o relacionamento actual entre as duas religiões, «prestar homenagem ao sofrimento cristão só é aceitável se isso não servir para negar a realidade de que o Holocausto foi essencialmente um programa de extermínio do povo judeu». Ou, como afirmou de modo definitivo o escritor e sobrevivente espanhol Jorge Semprún, e para acabar de vez com a ignóbil contabilidade dos cadáveres:
Também por isto é difícil aceitar que em Auschwitz, onde o extermínio dos judeus atingiu o paroxismo, os únicos nomes referidos durante a visita guiada sejam os do padre Kolbe, Edith Stein e Stefan Jasienski (um prisioneiro da cela 21 do Bloco 11 que se supõe ser o autor do crucifixo e do Cristo gravados na parede que, vivamente, nos recomendam que olhemos). Como também se considera excessivo que no curto filme que se mostra aos visitantes se inclua uma missa católica e se perca a conta às religiosas cristãs e às cruzes.
Não em Birkenau, onde menos sobem e cuja desmesura assusta, a maior parte dos visitantes limitando-se às poucas barracas que sobram à entrada e a espreitar o campo do alto da torre de vigia. Desolação podia ser a palavra que define este campo de morte, onde os Blocos são nauseabundos e as ruínas dos crematórios se escondem ao longe, por entre árvores e erva fresca. Uma terra aparentemente igual a qualquer outra, mas regada a cinzas. É aí, junto ao Crematório II, não longe do local da revolta do Sonderkommando, que avisto cabriolando por entre arbustos uma jovem corça, indiferente aos delírios dos homens e à maldição do lugar, a que também parece indiferente, embora sem o álibi da inocência, a nova-iorquina saída directamente de um filme de Allen que clama a plenos pulmões não se conformar com o facto de não ter encontrado a escultura – «God! Uma madonna belíssima!» – que uma amiga tinha feito «expressamente para oferecer aos judeus».
Eu vi-o em Auschwitz, velho e magro, apoiado numa bengala, e adivinhei-lhe a origem pela forma como andava por ali, alguém que regressa a uma casa em ruínas à qual reconhece os cantos. Voltei a encontrá-lo por acaso em Kazimierz, o bairro judaico de Cracóvia, quando procurava a sinagoga Izaak, uma das oito sinagogas que voltaram entretanto a abrir portas. Ele disse: «Aqui era um bairro judeu». Eu disse: «Vi-o ontem em Auschwitz». Ele disse: «É possível. Uma irmã minha morreu lá em 19..., outra em 19...». Esqueci os nomes e as datas. O olhar dele era tranquilo, a voz amável, o pulso tatuado. Não consegui dizer mais nada. Fugi por vergonha de sentir uma dor que não me pertencia.
Talvez o mesmo tenha se tenha passado com Patrícia, do Porto, Portugal, que deixou escrito no livro de visitas do Pavilhão da Checoslováquia, em Auschwitz: «9 de Maio de 2005. Infelizmente, este local existe. Mas, já que existe, espero que muita gente o visite para que jamais se repita.» E acabava com a candura de que só um jovem poderia ser capaz: «Beijinhos e desculpem». (2005)
26/01/09
Uma vez sem exemplo...
És homem ou mulher? Peggy Lee e Johnny Cash, I'm A Woman
Descreve-te. Leon Rausch, You Don't Know Me
O que acham as pessoas de ti? Elvis Presley, Baby I Don't Care
Como descreves o teu último relacionamento? [odeio a palavra relacionamento mas não fui eu que fiz as perguntas, ok?] Dalida e Roger Pierre (voz de Alain Delon), Paroles, Paroles
Descreve o estado actual da tua relação [não sei o que detesto mais: relação ou relacionamento...]. Edith Piaf e Theo Sarapo, A Quoi Ça Sert L'amour
Onde querias estar agora? Willie Nelson, On The Road Again
O que pensas sobre o amor? Yves Montand, C'est Si Bon
Como é a tua vida? Tony Bennett, Rags to riches
O que pedirias se pudesses ter só um desejo? Tom Waits, Take Me Home
Escreve uma frase sábia [já que o inquério é musico-sentimental...] Dean Martin, Takes Two To Tango
25/01/09
A política em Portugal: da grande porca à grande porcaria
24/01/09
Notícia de última hora [não, não é sobre o caso Freeport...]
 Estou apaixonado
Estou apaixonadoPelo meu romance.
No passado dia 7 de Janeiro, escrevi a primeira palavra daquele que começa a ser o meu próximo romance.
Este romance parte de uma ideia que tive em finais de 2005 e que, desde então, se tem vindo a multiplicar pelo infinito. Em 2007 e 2008, dediquei-me à investigação acerca de alguns temas importante para o mundo do romance. Fi-lo utilizando os mais diversos meios e constituiu uma descoberta pessoal que contruibuiu para que o projecto do romance se adensasse ainda mais.
E chegou o dia 7 de Janeiro.
Por muito boas razões, tive de interromper a escrita do romance na semana passada. Espero retomá-la amanhã. Já chamei as personagens para junto de mim. Algumas já começaram a chegar.
[da série «embirrações assumidas (IV)»; informação recolhida naquele sítio...]
23/01/09
«If there's anything I hate more than being taken seriously, it's being taken too seriously»*
21/01/09
Carta aberta aos clientes da Pastelaria
Acrescente-se: sei que dirijo tasco modesto onde o que quer que sirva chegará, no máximo, a cerca de mil leitores; número dos que por aqui passaram em demanda da Moreira, senhora cujo português técnico alagou a Pastelaria.
Quanto à legislação, desconheço-a. Requererá um anúncio particular publicitado num blogue autorização superior? Será deontologicamente correcto? Será contraproducente, empurrando-me para a classe das «pessoas infelizes», aquelas que nem O Segredo conseguirá salvar? Faria melhor em escrever directamente ao Obama? Tentar a Maçonaria?
Ora, que se lixe: «I don't believe in hell. I believe in unemployment». Fora isso tudo bem, como diria o Senhor Comentador.
20/01/09
Uma questão de melanina
 A um cara-pálida mais orbícola, talvez a cor da pele lhe pareça assunto maçador e ultrapassado. Talvez até lhe pareça de mau gosto aludir, no caso de Obama, à sua pigmentação epidérmica. Mas a verdade é esta: a fotografia acima é de 1939 (Russell Lee, Oklahoma City); a recusa de Rosa Parks em ceder o seu lugar a um branco é de Dezembro de 1955; e, no papel, só em 1964 a discriminação racial foi eliminada dos EUA, através da Lei dos Direitos Civis aprovada pelo Congresso a 2 de Julho. Depois seria preciso esperar até 2008 para que um black conseguisse ser eleito presidente.
A um cara-pálida mais orbícola, talvez a cor da pele lhe pareça assunto maçador e ultrapassado. Talvez até lhe pareça de mau gosto aludir, no caso de Obama, à sua pigmentação epidérmica. Mas a verdade é esta: a fotografia acima é de 1939 (Russell Lee, Oklahoma City); a recusa de Rosa Parks em ceder o seu lugar a um branco é de Dezembro de 1955; e, no papel, só em 1964 a discriminação racial foi eliminada dos EUA, através da Lei dos Direitos Civis aprovada pelo Congresso a 2 de Julho. Depois seria preciso esperar até 2008 para que um black conseguisse ser eleito presidente.19/01/09
A book a day keeps the doctor away
 Bradley Pearson é um escritor de meia-idade com um livro na cabeça. Como qualquer escritor com um livro na cabeça, Bradley precisa de silêncio. É por isso que decide ausentar-se de Londres, onde mora sozinho num pequeno apartamento rodeado de pó e literatura. Falhado o seu casamento com Christian, que emigrara, entretanto, para os EUA, de onde acaba de regressar na condição de viúva, resta a Bradley a amizade, não isenta de rivalidade, com Arnold Baffin, autor mais novo e de sucesso que ele próprio ajudou a lançar mas por cuja obra foi perdendo admiração. Do rol das personagens principais consta também Rachel, mulher de Arnold, dona de casa dedicada apesar de descontente com o seu limitado papel, a irmã de Bradley, Priscilla, mulher de Roger, do qual decidiu separar-se da pior maneira, e Julian, a jovem filha do casal Baffin. No início do romance Bradley tem as malas feitas e está pronto a partir. Mas todos os aludidos acima, mais o desprezado ex-cunhado Francis, acabarão por lhe entrar, literal e teatralmente casa dentro (Murdoch publicaria, aliás, uma versão para palco de O Príncipe Negro em 1989), retendo-o em Londres, num corrupio de toques de campainha, bateres de porta e entradas e saídas que levam o leitor a imaginar-se numa plateia assistindo a uma comédia de enganos. E, de facto, O Príncipe Negro é uma comédia de enganos. Negra.
Bradley Pearson é um escritor de meia-idade com um livro na cabeça. Como qualquer escritor com um livro na cabeça, Bradley precisa de silêncio. É por isso que decide ausentar-se de Londres, onde mora sozinho num pequeno apartamento rodeado de pó e literatura. Falhado o seu casamento com Christian, que emigrara, entretanto, para os EUA, de onde acaba de regressar na condição de viúva, resta a Bradley a amizade, não isenta de rivalidade, com Arnold Baffin, autor mais novo e de sucesso que ele próprio ajudou a lançar mas por cuja obra foi perdendo admiração. Do rol das personagens principais consta também Rachel, mulher de Arnold, dona de casa dedicada apesar de descontente com o seu limitado papel, a irmã de Bradley, Priscilla, mulher de Roger, do qual decidiu separar-se da pior maneira, e Julian, a jovem filha do casal Baffin. No início do romance Bradley tem as malas feitas e está pronto a partir. Mas todos os aludidos acima, mais o desprezado ex-cunhado Francis, acabarão por lhe entrar, literal e teatralmente casa dentro (Murdoch publicaria, aliás, uma versão para palco de O Príncipe Negro em 1989), retendo-o em Londres, num corrupio de toques de campainha, bateres de porta e entradas e saídas que levam o leitor a imaginar-se numa plateia assistindo a uma comédia de enganos. E, de facto, O Príncipe Negro é uma comédia de enganos. Negra.Como sempre em Murdoch, a acção alia-se à reflexão. Neste livro que vai buscar título a Hamlet (peça e personagem presentes em alguns momentos-chave do romance), a escritora irlandesa (1919-1999) leva longe o cruzamento entre os dois planos. O próprio Bradley, enquanto protagonista e narrador, vai intercalando os acontecimentos com as suas observações, escritas no caso a posteriori, já que tudo o que nos é narrado teve lugar no passado. Mas não só ele. Em quatro posfácios, assinados por quatro das personagens, outras tantas visões nos desconcertam, confrontando-nos com a pergunta: o que é a verdade?
Eros e Thanatos jogam aqui ao gato e ao rato, e mesmo se o rato ganha aparentemente a partida, a serenidade final de Bradley permite-nos pensar que a redenção é possível. Assumidamente platónica, Murdoch crê no amor como caminho para o conhecimento (e o verdadeiro conhecimento é necessariamente bom…). Não o encara, contudo, como expressão beatífica que nos conduziria para fora do mundo (embora Bradley se encontre, de certa maneira, fora do mundo); ao invés, ele é condição de aproximação aos outros. Uma aproximação cheia de escolhos, mal-entendidos e sofrimento; mas sem os outros seria fácil ser bom. E como ser bom, é a interrogação ontológica radical que trespassa toda a obra de Iris Murdoch. Colocada, claro, com ironia e recorrendo a personagens a quem gostamos de tratar pelo nome. Um grande livro.
Iris Murdoch, O Príncipe Negro, Relógio d’Água, 2008
17/01/09
Hitler tinha a Juventude Hitleriana, Estaline os Pioneiros, Salazar a Mocidade Portuguesa; a Direcção-Geral dos Impostos ameaça com o Príncipe Honrado
















16/01/09
Eu e o homem da minha vida*
Dean Martin e Joy Hawkins, Let's Fall In Love
* e escusam de se pôr com piadas: eu sei que os leopardos são às bolinhas
15/01/09
Um monte de sarilhos: só falo do que sei
 Há muitos, muitos anos, muito antes do conflito de civilizações, tive um namorado muçulmano. Conheci-o em Montmartre, era pintor (naturalmente) e vivia numa casa onde Picasso, o próprio, pintara uns retratos quando jovem artista. Na altura ― há muitos, muitos anos, como disse ― eu era muito namoradeira (um dia contarei como essa característica me afastou definitivamente da extrema-esquerda...). Engatei-o, ou ele engatou-me, para o caso tanto faz, durante uma visita ao bairro. Abdullah, vamos chamar-lhe assim, vendia quadros. E no meio de tanta versatilidade pictórica ― torres eiffel a carvão, meninos com lágrimas a óleo, paisagens pontilhistas e abstraccionismos vários ― os quadros de Abdullah sobressaíam. Naquele dia fiquei ali a olhá-los.
Há muitos, muitos anos, muito antes do conflito de civilizações, tive um namorado muçulmano. Conheci-o em Montmartre, era pintor (naturalmente) e vivia numa casa onde Picasso, o próprio, pintara uns retratos quando jovem artista. Na altura ― há muitos, muitos anos, como disse ― eu era muito namoradeira (um dia contarei como essa característica me afastou definitivamente da extrema-esquerda...). Engatei-o, ou ele engatou-me, para o caso tanto faz, durante uma visita ao bairro. Abdullah, vamos chamar-lhe assim, vendia quadros. E no meio de tanta versatilidade pictórica ― torres eiffel a carvão, meninos com lágrimas a óleo, paisagens pontilhistas e abstraccionismos vários ― os quadros de Abdullah sobressaíam. Naquele dia fiquei ali a olhá-los. Abdullah já empilhara as obras quando cheguei e olhou para mim (como suponho José Policarpo olharia para a nossa senhora de fátima se esta lhe aparecesse...), duvidando da minha corporalidade. Após tantos convites em vão, la voilà! Acho que foi isso que Abdullah pensou.
Para abreviar razões e este post, eu e Abdullah tornámo-nos namorados. Comíamos galinha picante com sumo de pacote (vinho, jamé!), ele mostrava-me fotografias da Côte d'Ivoire (lindíssimas!), falava-me da família que tinha deixado para trás, do seu sonho de ser pintor à Paris... e telefonava-me dez vezes por dia. Tanto telefonema acabou por atafegar-me, principalmente por causa daquela parte em que ele insistia em saber onde é que eu estivera durante o telefonema anterior que ninguém tinha atendido. Ao pesadelo de Bell juntou-se o do dernier métro: sempre que após um dia passado juntos eu queria ir para casa, Abdullah argumentava com o absurdo dos perigos subterrâneos; mas um homem que tem como namorada uma passante ocasional, que aceita jantar com ele sem o conhecer de lado algum, também deveria saber que não vai ser uma viagem de metro, mesmo tardia, a conseguir retê-la chez soi... Finalmente, Abdullah desatou a querer casar e levar-me à Côte d'Ivoire, onde me apresentaria ao pai, à mãe, à avó, aos irmãos e irmãs, aos tios e aos primos... As famílias demasiado alargadas dão-me claustrofobia e aquilo começou-me a assustar, muito mais do que o último metro que, de facto, por vezes não era seguro. Resumindo: eu estava-me a meter num «monte de sarilhos».
Poupo-vos ao desenlace, para acrescentar apenas que nunca mais vi o Abdullah nem fui à Costa do Marfim. E que dessa parte tenho pena.
14/01/09
Paneleiragem mexicana (sem ofensa)*
Pedro Infante, Ella
* ver até ao fim ― ella, ella, mas aqueles abraços... unh... aqueles abraços...
[post que tem que ver com isto]
Ainda no gamanço: da meteorologia à lógica ou de como isto anda mesmo tudo ligado
 Era Outono e os índios da reserva perguntaram ao novo chefe se o Inverno ia ser frio. Educado segundo o estilo moderno, o chefe nunca tinha aprendido os antigos segredos e não fazia ideia se o Inverno iria ser frio ou ameno. Para jogar pelo seguro, aconselhou a tribo a apanhar lenha e preparar-se para um Inverno frio. Alguns dias mais tarde, lembrou-se de telefonar para o Serviço Nacional de Meteorologia e perguntar se previam um Inverno frio. O meteorologista replicou que, de facto, pensava que o Inverno seria bastante frio. O chefe aconselhou a tribo a armazenar ainda mais lenha.
Era Outono e os índios da reserva perguntaram ao novo chefe se o Inverno ia ser frio. Educado segundo o estilo moderno, o chefe nunca tinha aprendido os antigos segredos e não fazia ideia se o Inverno iria ser frio ou ameno. Para jogar pelo seguro, aconselhou a tribo a apanhar lenha e preparar-se para um Inverno frio. Alguns dias mais tarde, lembrou-se de telefonar para o Serviço Nacional de Meteorologia e perguntar se previam um Inverno frio. O meteorologista replicou que, de facto, pensava que o Inverno seria bastante frio. O chefe aconselhou a tribo a armazenar ainda mais lenha.Duas semanas mais tarde, o chefe ligou de novo para o Serviço de Meteorologia.
― Continuam convencidos de que o Inverno vai ser frio? - perguntou.
― Continuamos ― respondeu o meteorologista ― Tudo indica que vai ser um Inverno muito frio.
O chefe aconselhou a tribo a apanhar toda a lenha que conseguissem encontrar. Passadas duas semanas, o chefe telefonou uma vez mais para o Serviço de Meteorologia e perguntou como pensavam que o Inverno seria naquele momento.
― Agora, estamos a prever que será um dos Invernos mais frios de que há registo! ― informou o meteorologista.
― A sério? ― perguntou o chefe ― como podem ter tanta certeza?
― Os índios andam a apanhar lenha como loucos! ― replicou o meteorologista.
Thomas Cathcart e Daniel Klein, Platão e um Ornitorrinco Entram num Bar, capítulo II - Lógica/Argumento Circular, ed. D. Quixote [aqui]
13/01/09
Hamlet, um príncipe com insónias: versão condensada
 Hamlet, resumo: Um príncipe com insónias passeia pelas muralhas do castelo, quando o fantasma do pai lhe diz que foi morto pelo tio que dorme com a mãe, cujo homem de confiança é o pai da namorada que entretanto se suicida ao saber que o príncipe matou o seu pai para se vingar do tio que tinha matado o pai do seu namorado e dormia com a mãe. O príncipe mata o tio que dorme com a mãe, depois de falar com uma caveira, e morre, assassinado pelo irmão da namorada, a mesma que era doida e que se tinha suicidado.
Hamlet, resumo: Um príncipe com insónias passeia pelas muralhas do castelo, quando o fantasma do pai lhe diz que foi morto pelo tio que dorme com a mãe, cujo homem de confiança é o pai da namorada que entretanto se suicida ao saber que o príncipe matou o seu pai para se vingar do tio que tinha matado o pai do seu namorado e dormia com a mãe. O príncipe mata o tio que dorme com a mãe, depois de falar com uma caveira, e morre, assassinado pelo irmão da namorada, a mesma que era doida e que se tinha suicidado.Encontrei isto aqui por um daqueles belos acasos da Rede. Não resisti.
12/01/09
11/01/09
Redacção distribuída pela DREN onde se prova que Margarida Moreira escreve mal comàmerda e agora que me processe
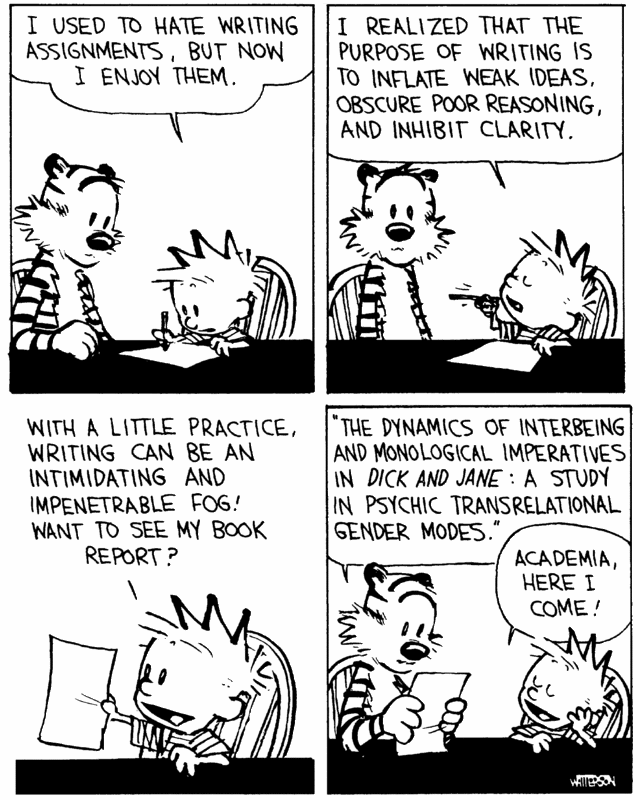 O que se segue foi catrapiscado aqui e gamado integralmente daqui.
O que se segue foi catrapiscado aqui e gamado integralmente daqui.Trata-se de um documento oficial da Direcção Regional de Educação do Norte assinado por Margarida Moreira.
Quem é Margarida Moreira? Perguntais bem. Poucos saberiam sequer da sua existência, até há uns tempos ter saído descabelada em defesa do bom nome do primeiro-ministro, instaurando um processo disciplinar a um professor que terá dito em privado aquilo que muita gente no Metro diz em público. O quê? Não sabemos. O processo foi arquivado e Moreira reconduzida no cargo (a ordem dos factores é ao contrário). Fez-se ouvir de novo, mais recentemente, quando, a propósito das criancinhas a quem Sócrates foi oferecer o Magalhães e depois ficaram sem ele, explicou que o dá e tira tratara-se de uma opção pedagógica.
Pedagogias à parte, a carta assinada por esta senhora está cheia de erros. Patenteia (uma forma verbal que agradaria certamente a Margarida Moreira...), à falta de ideias, aquela vacuidade empolada de quem pensa que usar bem a língua é encher as frases de escolhos. E, citando-a, sem mais qualquer delonga, vamos à redacção.
Ex.mo(a) Senhor(a)
Director(a) / Presidente do Conselho Executivo
Como é do conhecimento de todos, têm vindo a ser entregues nas escolas do Norte, [olá!!! que raio de vírgula é esta?] cerca de 4 000 Magalhães/dia por parte de empresas distribuidoras e da própria Direcção Regional de Educação do Norte [suponho que o simples "por" tenha parecido demasiado vulgar à escrevente]
1. Embora os computadores entregues não correspondam à totalidade da encomenda, tal só significa que haverá novas distribuições; [tal a obscuridade da construção frásica que arrisco que se pretenderia chamar a atenção para o seguinte: embora (conjunção, sinónimo de "apesar de") blá-blá-blá..., as encomendas não se irão embora (advérbio, sinónimo de "dar de frosques")]
2. Os computadores recebidos devem ser enviados pela escola para casa, no próprio dia de entrega, sem mais qualquer delonga; [aqui a senhora delonga-se um bocado sem necessidade, visto que já tinha dito que a entrega devia ser imedita]
3. Em Janeiro, deverá ser marcado um dia em que as crianças devem trazer os Magalhães, para iniciar o trabalho casa-escola. [neste ponto terei de assumir a minha ignorância: no meu tempo só havia trabalhos de casa (e sem hífen)]
4. O pagamento dos Magalhães, nos casos em que a isso os pais sejam obrigados, estão a receber informação por sms devendo, em todas, constar a entidade 11023; [tanta oração subordinada é o que dá. Põe-se "o pagamento dos Magalhães" a receber sms, esquecida uma regra básica: keep it simple, stupid!]
5. Caso o número de computadores de entrega, [mais um exemplo de pomposidade desastrosa: onde está "de" devia estar "da"; provavelmente a escrevente julga que isto é como nos nomes de família em que é mais fino ser "de qualquer coisa" do que "da qualquer coisa"...] não corresponda com o número [ah, as preposições! "corresponder a" e não "corresponder com"] presente na guia de remessa, deve o facto ser mencionado directamente nesta, referindo o número total recebido.Tal facto não impede que, de imediato, se recebam os computadores apresentados; [uma mensagem cifrada não diria com mais clareza; mas onde se lê se recebam os computadores deverá ler-se se receba os computadores: a concordância do verbo é com o sujeito e não com o complemento (neste caso, o sujeito é indefinido: "alguém" - receba] *
6. O Ministério da Educação tem perfeita consciência das dificuldades que este tipo de acção de massas acarreta às escolas [ocorreu-me agora, considerando a terminologia: também terá a escrevente um perigoso passado esquerdista?] e, embora esta situação lhe escape [também a mim me escapa isto: não é o Ministério quem comanda a "acção de massas"? E já agora: falta uma vírgula após "escape"] entende que o mais importante é a recepção dos Magalhães, como mais valia almejada pelos nossos alunos [aqui tenho de ir por etapas: 1. mais-valia tem hífen; 2. almejada - ALMEJADA? e repito, ALMEJADA?!!!; 3. e nossos porquê? A Moreira dá aulas? Ou trata-se de um "nossos" majestático, próprio da real iliteracia da dita cuja?], e por isso agradece toda a colaboração e compreensão dos orgãos [órgãos com acento, s.f.f]** de gestão, dos professores e dos serviços administrativos e auxiliares.
7. Quando um encarregado de educação recebe sms e é do escalão A, deve ser reportado [pergunto-me: que mal lhe terão feito os encarregados de educação do escalão A...?] e naturalmente o computador entregue ao aluno; [dado o advérbio de modo não estar entre vírgulas, leia-se, com naturalidade, talvez assobiando para o ar...]
8. Outras situações anómalas devem ser sempre imediatamente reportadas [outra vez?!!! E não há quem a deporte...] para o nosso mail dsgm@dren.min-edu.pt;
8. Recorda-se ainda que as escolas que ainda não procederam à encomenda do Magalhães [o que é com certeza sinal de muito mau procedimento!; e que tal: fizeram a encomenda - demasiado bolónio, não?] o devem fazer com celeridade. [e porque não sem mais qualquer delonga?].
Com os melhores cumprimentos,
A Directora Regional de Educação do Norte
Margarida Moreira
10/01/09
A Pastelaria fica-se pelos bonecos que ultimamente não me apetece falar muito

09/01/09
Música em duplicado (I): I Cried For You
Dean Martin e as Ding-a-ling Sisters
Sonny King [removeram o vídeo; que deus não lhes perdoe]
08/01/09
07/01/09
Matei 4 de uma vez, salvo seja
 Escreveu Carlos Drummond de Andrade no «Poema das Sete Faces»: Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/ disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. O poeta foi um destro com alma de canhoto, Machado de Assis era esquerdino de nascença. Mas onde os dois se harmonizarão melhor é nestes versos mais à frente: Mundo mundo vasto mundo/ se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solução. Porque o «bruxo da Rua do Cosme Velho», como lhe chamou Drummond noutro poema, de soluções sabia pouco: envolvendo o cepticismo na capa do humor, a ironia machadiana tudo contagia; a intriga, as personagens, a linguagem e a própria arquitectura romanesca.
Escreveu Carlos Drummond de Andrade no «Poema das Sete Faces»: Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem na sombra/ disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. O poeta foi um destro com alma de canhoto, Machado de Assis era esquerdino de nascença. Mas onde os dois se harmonizarão melhor é nestes versos mais à frente: Mundo mundo vasto mundo/ se eu me chamasse Raimundo/ seria uma rima, não seria uma solução. Porque o «bruxo da Rua do Cosme Velho», como lhe chamou Drummond noutro poema, de soluções sabia pouco: envolvendo o cepticismo na capa do humor, a ironia machadiana tudo contagia; a intriga, as personagens, a linguagem e a própria arquitectura romanesca. Brás Cubas disserta do Além: Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adoptar diferente método: a primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor (…); a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.
Quincas Borba retoma personagem homónima das Memórias… e a sua filosofia, o Humanitismo (resumida na frase: Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas), prosseguida agora por Rubião (finado Quincas no romance póstumo), herdeiro rejeitado por Sofia que acaba louco, na miséria e morto.
Dom Casmurro, o seu texto mais célebre, e que traz dentro a célebre e enigmática Capitu, merecia também mais mas fique-se pelo título: Uma noite destas (…) encontrei no trem (…) um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que Bento Santiago cabeceou e o poeta levou-lhe a mal o gesto: ficou Dom Casmurro. Tudo isto vem logo no início, com o capítulo II a abrir assim: Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. E mais moderno é impossível… Ou talvez não.
Esaú e Jacó é um tratado de complexidade narrativa, pretexto das mais enviesadas hermenêuticas. Psicanálise, política, teoria literária, tudo já foi invocado a propósito deste texto (perdido e achado entre os papéis do Conselheiro Aires) centrado na rivalidade dos gémeos Pedro e Paulo e narrado não se sabe bem por quem.
E aproveite-se o Aires para passarmos a Eça que também teve o seu Acácio, além de um desaguisado com o mestre brasileiro precisamente por causa d' O Primo Basílio. Mas nada disso terá assim tanta importância. Parafraseando o bruxo do Cosme Velho: «Estão mortos: podemos elogiá-los à vontade».
[Fotografia de woman reading on top of ladder roubada daqui]
06/01/09
Um pretexto vale o que vale*
The Fugs, CIA Man**
* Leon E. Panetta é o novo director da CIA da era Barack Obama
** Integrado na banda-sonora de Burn After Reading dos irmãos Cohen
05/01/09
04/01/09
03/01/09
Como é diferente o feminismo em Portugal ou ria-me eu com este vídeo quando visualizei a Maria Teresa Horta a engomar as calças e a camisa do marido*
Fever, Rita Moreno, Muppet Show
* Todos os dias passo as calças e a camisa do Luís. E nestas coisas ninguém acredita. As pessoas acham que ou sou uma depravada que escreve poesias eróticas ou então sou lésbica.
02/01/09
01/01/09
Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, no essencial estou de acordo com Rui Bebiano
 Na página da edição portuguesa do Le Monde Diplomatique deparo com um artigo que me parece pouco sério, assinado por Alain Gresh, editor do jornal, com o título «Gaza: ‘choque e pavor’». Trata-se, a meu ver, de um exemplo de impudor cheio de boa intenções alardeado por certos analistas — mapeados entre a esquerda mais ortodoxa e aquela que se autoproclama crítica mas é incapaz de reapreciar dinamicamente o seu sistema de crenças — sempre que falam da eternizada crise do Oriente Médio.
Na página da edição portuguesa do Le Monde Diplomatique deparo com um artigo que me parece pouco sério, assinado por Alain Gresh, editor do jornal, com o título «Gaza: ‘choque e pavor’». Trata-se, a meu ver, de um exemplo de impudor cheio de boa intenções alardeado por certos analistas — mapeados entre a esquerda mais ortodoxa e aquela que se autoproclama crítica mas é incapaz de reapreciar dinamicamente o seu sistema de crenças — sempre que falam da eternizada crise do Oriente Médio. Começa por ignorar completamente a provocação do Hamas que antecedeu o ataque de Israel, traduzida no lançamento, a 20 de Dezembro, de dezenas de rockets sobre as cidades judaicas de Ashdad e Ashkelon (fala apenas da sua ténue reposta após o início dos bombardeamentos israelitas). Continua tentando provar a «legitimidade democrática» do governo islamita do Hamas quando este tomou o poder de uma forma descricionária após uma guerra de extermínio contra os militantes da Fatah que levou até à fuga de Gaza de dezenas de milhar de refugiados palestinianos. Esquece que, como até o próprio Hamas reconhece, cerca de 250 dos mais de 300 mortos nos ataques da aviação israelita pertencem às milícias do movimento (o que não isenta de crítica esses ataques, mas indica o seu sentido primordial). Ignora a repelente estratégia dos islamitas no sentido de disseminarem quartéis e rampas para o lançamento de rockets no centro de áreas habitacionais que lhes servem de escudo humano. E, finalmente, faz tábua rasa dos direitos históricos dos israelitas sobre a presença na região, que não podem, nem devem, sobrepor-se aos dos palestinianos, mas precisam ser conformados com eles. Não seria preciso tanto para julgar um artigo como parcial e, realmente, pouco honesto.
Amos Oz tem falado repetidamente de uma inevitabilidade que ele próprio já não verá, e muitos de nós não terão também tempo de ver, que é esta, bem simples: irmãos de sangue e vizinhos, palestinianos e judeus, custe o que custar, estão condenados a entenderem-se, a colaborarem, a miscisgenarem-se até. Ainda que contra a vontade de quem, lá como aqui deste lado da Europa, sofre de miopia e se empenha teimosamente em atear rastilhos para alimentar a sua leitura maniqueia do mundo.
EM REDE
- 2 dedos de conversa
- A balada do café triste
- A causa foi modificada
- A cidade das mulheres
- A curva da estrada
- A dança da solidão
- A rendição da luz
- A revolta
- A terceira via
- A única real tradição viva
- Abrasivo
- Agricabaz
- Agua lisa
- Albergue espanhol
- Ali_se
- Amor e outros desastres
- Anabela Magalhães
- Anjo inútil
- Antologia do esquecimento
- Arrastão
- As escolhas do beijokense
- As folhas ardem
- Aspirina B
- ayapaexpress
- Azeite e Azia
- Bibliotecário de Babel
- Bidão vil
- Blogtailors
- Casario do ginjal
- Centurião
- Church of the flying spaghetti monster
- Ciberescritas
- Cidades escritas
- Cinco sentidos ou mais
- Claustrofobias
- Coisas de tia
- Complicadíssima teia
- Contradição Social
- Dazwischenland
- De olhos bem fechados
- Dias Felizes
- Do Portugal profundo
- Duelo ao Sol
- e-konoklasta
- e.r.g..d.t.o.r.k...
- Enrique Vila-Matas
- Escola lusitânia feminina
- Fragmentos de Apocalipse
- Governo Sombra
- Helena Barbas
- If Charlie Parker was a gunslinger
- Illuminatuslex
- Incursões
- Instante fatal
- Intriga internacional
- João Tordo
- Jugular
- Klepsydra
- Last Breath
- Ler
- Les vacances de Hegel
- Letteri café
- LInha de Sombra
- Mãe de dois
- Mais actual
- Malefícios da felicidade
- Manual de maus costumes
- Metafísica do esquecimento
- Mulher comestível
- Nascidos do Mar
- Non stick plans
- O Declínio da Escola
- O escafandro
- O funcionário cansado
- O jardim e a casa
- O perfil da casa o canto das cigarras
- Obviario
- Orgia literária
- Paperback cell
- Parece mal
- Pedro Pedro
- Porta Livros
- Pratinho de couratos
- Raposas a Sul
- Reporter à solta
- Rui tavares
- S/a pálpebra da página
- Se numa rua estreita um poema
- Segunda língua
- Sem-se-ver
- Sete vidas como os gatos
- Shakira Kurosawa
- Sorumbático
- Texto-al
- The catscats
- There's only 1 Alice
- Tola
- Trabalhos e dias
- Um dia... mais dias
- Um grande hotel
- We have kaos in the garden








 E se espirrar não fosse sintoma de constipação mas de pensamentos lúbricos?
E se espirrar não fosse sintoma de constipação mas de pensamentos lúbricos?